À saída, cruzei com o Zé Celso e perguntei que diabo tinha sido aquilo. Ele explicou que o Genoíno e seu grupo haviam pressionado o Suplicy para evitar que eu discursasse, acrescentando que, no teatro dele, nunca permitiria que alguém cassasse a palavra alheia. Por último, aconselhou-me: se eu queria mesmo levar adiante aquela luta, deveria resistir com todas as forças a qualquer forma de censura, exatamente como ele próprio fazia.
Por Celso Lungaretti
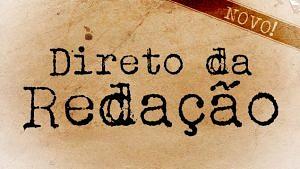
Necrológios eu fazia profissionalmente, por exigência de editores da grande imprensa que, para ganharem tempo, às vezes me davam tal incumbência antes mesmo de uma celebridade desenganada bater as botas.
Eu me sentia um urubu voando sobre a carniça, mas tinha contas para pagar e não podia chutar algum emprego em função de melindres menores.
Agora, o David me diz que eu sou quem, na equipe deste blog, mais conheceu o Zé Celso. Tem toda razão.
E, claro, ele nem precisou acrescentar que um post sobre o Zé era indispensável aqui. Eu estava careca de o saber. Então, mãos à obra!
Mas, como quem morreu foi um monstro sagrado do teatro brasileiro, estão espalhados por aí necrológios de todos os tipos e com os mais variados méritos e deméritos. Seja o que for que o leitor queira saber sobre a trajetória dele, encontrará um artigo que satisfaça sua curiosidade ou provoque sua irritação.
Opto, então, por me ater ao que não se encontra em nenhum texto alheio: minhas impressões sobre o velho guerreiro (ao mesmo tempo, recomendo a todos os leitores que acessem esta ótima duologia da revista Bravo! sobre ele e os 65 anos do Teatro Oficina: memórias da ditadura e a volta do exílio e o renascimento).
O primeiro episódio data do 1º semestre de 1972, quando, tentando voltar à normalidade depois dos traumas acumulados na minha temporada no inferno (qual sejam os porões da ditadura), era calouro na ECA/USP e fui assistir à criação coletiva do Teatro Oficina Gracias, señor, uma inusitada experiência de teatro que se prolongava por dois dias seguidos, perfazendo algo entre cinco e seis horas.
Era uma parábola sobre os acontecimentos políticos recentes, desde o governo João Goulart, passando pelo golpe e pela bestial repressão desencadeada a partir de 1968. Havia o script, as músicas, as muitas alusões a episódios reais pelas quais os censores passaram batidos, e também o convite quase permanente aos presentes para intervirem. Suas participações eram assimiladas pelo elenco, que as incorporava ao espetáculo, improvisando em cima delas.
Foi a radicalização da experiência do Teatro de Arena que, com seu sistema do coringa, já dissociara o ator de um determinado personagem.
Ao longo de uma peça como Arena conta Tiradentes, p. ex., os atores iam personificando diferentes figuras históricas, às vezes até alternando-se na representação de algumas delas (aí eram a indumentária e os adereços – um casaco, um chapéu, uma bengala – que nos permitiam identificá-las). O único personagem com direito a um ator fixo (David José) era o próprio alferes.
Aí veio o Oficina e aboliu a divisão entre palco e plateia. Foi uma experiência inesquecível, que me marcou a ponto de, a partir de então, suportar com dificuldade as encenações convencionais.
E, na segunda vez em que compareci àquela maratona, houve o inusitado: o terceiro ator que mais se destacava no elenco, o Henricão (Henrique Maia Nurmberger), simplesmente começou a gritar que não adiantava nada denunciar a ditadura no espaço protegido do Teatro Ruth Escobar.
Tentou convencer todos os presentes a saírem para a rua, embora não pudessem iniciar revolução nenhuma naquele fim de noite no Bixiga (nada conseguiriam além de, talvez, atraírem a polícia para lá).
Os dois atores principais, o Zé Celso e o Renato Borghi, tiveram dificuldade imensa para evitar que o convite fosse aceito. E, de certa forma, aquilo quebrou o encanto de quem, como eu, estava entusiasmado por passar algumas horas curtindo aquela liberdade em recinto fechado. Assim como na comunidade alternativa da qual participei no Jardim Bonfiglioli, era um balde de água fria perceber que, fora daquelas quatro paredes, o sonho acabava e a repressão recrudescia...
Zé Celso, que regia a loucura criativa do Oficina, acabou tendo de partir em 1974 para o exílio em Portugal, após haver sido preso pelo Dops e muito torturado – mas não tanto quanto o Henricão, que sofreu sequestro, sumiu e só foi reencontrado vários anos depois, como paciente do Pinel, ficando evidente que sofrera uma terrível lobotimização.
"NINGUÉM CASSA A PALAVRA ALHEIA NO MEU TEATRO!" – o segundo episódio foi quando eu lutava contra o boicote que sofria na anistia federal (meu caso ia sendo passado para trás embora as regras do programa determinassem que eu deveria ser priorizado por estar em situação crítica de desemprego) e o então senador Eduardo Suplicy expediu um ofício endossando minhas queixas.
Assim, quando ele me convidou para assistir, no Teatro Oficina, à plenária de sua candidatura à reeleição, senti-me obrigado a comparecer. E quando percebi que, dentre os muitos que discursavam enaltecendo-o, não havia nenhum ex-preso político, concluí que era isto que ele esperava de mim. Inscrevi-me.
Falaram também alguns petistas empoderados, inclusive o José Genoíno. E eu sabia muito bem que eles me detestavam desde que eu havia assumido a divulgação e dado contribuição considerável à vitória da greve de fome dos quatro de Salvador em 1986. Não suportavam o fato de que, prestando-lhes solidariedade revolucionária, eu fizera o que o PT, sim, tinha o dever de fazer por seus militantes (só que, pelo contrário, os expulsou!).
Não gostaram que eu lhes tivesse arrancado a máscara de esquerdistas da face, nem que na década seguinte eu houvesse escrito (e o Jornal da Tarde de SP publicado) um veemente artigo em defesa de um militante íntegro, o Paulo de Tarso Venceslau, expulso por denunciar a primeira grande maracutaia do PT, o ovo da serpente que, caso o houvessem esmagado naquela ocasião, teriam evitado mensalões e petrolões.
De repente, o Suplicy comunicou ao público que, devido ao adiantado da hora, os inscritos restantes (inclusive eu) não poderiam discursar, pois o teatro precisava ser devolvido ao Zé Celso para os preparativos do espetáculo da noite. Para mim tanto dava, já que encarava aquilo como uma mera obrigação.
Pouco depois, o Zé Celso apareceu e disse que a sessão continuaria, mesmo porque ele queria ouvir o que eu tinha a dizer. Surpreso, fiz meu discurso.
À saída, cruzei com o Zé Celso e perguntei que diabo tinha sido aquilo. Ele explicou que o Genoíno e seu grupo haviam pressionado o Suplicy para evitar que eu discursasse, acrescentando que, no teatro dele, nunca permitiria que alguém cassasse a palavra alheia.
Por último, aconselhou-me: se eu queria mesmo levar adiante aquela luta, deveria resistir com todas as forças a qualquer forma de censura, exatamente como ele próprio fazia.
Por Celso Lungaretti, jornalista, escritor, militante contra a ditaduramilitar.
Direto da Redação é um fórum de debates publicado no jornal Correio do Brasil pelo jornalista Rui Martins.


