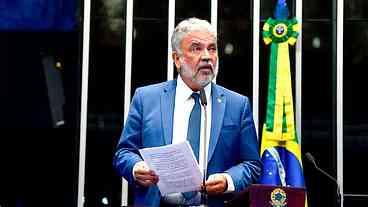Pesaram suas palavras, navegando 1.300 km pelos rios Negro, Amazonas e Madeira. Trabalho intenso. De manhã e de tarde, oficinas com alunos de escolas de oito cidades ribeirinhas e de uma aldeia indígena. À noite, aula-espetáculo e apresentação do palhaço engolidor de letras. Descanso, só no trajeto de barco de uma cidade à outra.

Os estivadores da cultura desceram em cada porto se equilibrando em pranchas. Subiram barrancos, enfiaram o pé na lama, enfrentaram chuva torrencial e sol escaldante, brigaram com mosquito, mutuca, muriçoca, pium e potó – um inseto parente do besouro que queima a pele. Tudo isso para levar e recolher vozes, frases, narrativas. Perceberam que palavras nascem, crescem, se transformam, envelhecem, desaparecem. Nas histórias que contaram e ouviram de crianças e jovens, estimularam a leitura de palavras escritas, faladas, cantadas, animadas e ritualizadas, ressuscitando antigas e aprendendo novas.
 No caminho, o barco da expedição cruzou com enormes balsas transportando soja que começa a invadir a floresta, encontrou marcas do garimpo que envenena o rio e observou a existência de um pequeno grupo que enriquece às custas da população cada vez mais empobrecida, sem assistência médica, com educação precária. Apesar disso, nas escolas da periferia brotaram surpreendentes manifestações de criatividade de alunos de 10 a 17 anos. Foi possível constatar em muitos “o brilho no olhar” que a professora Ivanir Lima, de Manicoré, observou nos indígenas Mura ali presentes.
Canoa escolar
No caminho, o barco da expedição cruzou com enormes balsas transportando soja que começa a invadir a floresta, encontrou marcas do garimpo que envenena o rio e observou a existência de um pequeno grupo que enriquece às custas da população cada vez mais empobrecida, sem assistência médica, com educação precária. Apesar disso, nas escolas da periferia brotaram surpreendentes manifestações de criatividade de alunos de 10 a 17 anos. Foi possível constatar em muitos “o brilho no olhar” que a professora Ivanir Lima, de Manicoré, observou nos indígenas Mura ali presentes.
Canoa escolar
 Dez crianças Mura viajaram nove horas até Manicoré com seus professores Maikon Douglas, 26 anos, e Jonas Gomes, 29 anos, só para participarem da oficina de contação de histórias indígenas. Ouviram atentamente a saga da Sogra do Jacamim, recolhida pelo botânico Barbosa Rodrigues, numa versão que funciona como um minitratado de ornitologia contendo inventário dos pássaros da Amazônia. Escutaram fábulas do jabuti, da onça, do jacaré e do índio que matou uma veada recém parida, ainda amamentando, e por isso foi punido por Anhangá que transformou o animal morto na mãe do caçador. A história funciona como código florestal de índios e ribeirinhos.
Algumas narrativas registradas no séc. XIX por Couto de Magalhães, Stradelli, Charles Hartt, Brandão Amorim, além de Barbosa Rodrigues, foram retiradas de seus livros como quem tira do hospital um doente já curado. Outras, mais recentes, conheci nos cursos de formação de professores indígenas que ministrei em diferentes regiões do Brasil. Narrativas míticas como a criação do universo pela avó do mundo, que foi engravidada pela música para assim parir os seres humanos, estimularam os Mura a contarem as suas versões.
Ouvi histórias que não conhecia. Um menino Mura, Kaynã de Oliveira, 13 anos, neto de uma Tukano do rio Negro com um Mura do rio Madeira, “lavou a égua” como se diz no Amazonas. Performático, com domínio de palco, gestos precisos, mandou ver. Foi lá na frente e descreviveu suas histórias, seguido por Camila Oliveira, 9 anos, e Emanuel Batista, 8 aninhos. Na escola indígena eles costumam fazer isso na “Hora de Ler” e na “Produção de contos”, quando reescrevem o que narraram ou leram. Já produziram mais de 50 contos que estão sendo digitados para um livro.
As crianças Mura retornaram à sua aldeia de carona no barco da expedição depois de assistirem uma aula-espetáculo no meio de chuva diluviana. Elas próprias armaram suas redes coloridas e foram despertadas cedinho pelo palhaço Cloro, que usou cobras e aranhas de borracha para “assustá-las”. De brincadeirinha, fingiam medo. Segundo a professora Ivanir Lima, estão “sedentas de literatura”, por isso a contação de história ocupa lugar relevante no currículo escolar.
- Na nossa escola Mura, a gente aprende o nosso e aprende o deles, mas nas escolas não indígenas, eles só aprendem o deles e ignoram o nosso diz o professor Maikon. Isto é, acabam ficando sem conhecer o outro.
Dez crianças Mura viajaram nove horas até Manicoré com seus professores Maikon Douglas, 26 anos, e Jonas Gomes, 29 anos, só para participarem da oficina de contação de histórias indígenas. Ouviram atentamente a saga da Sogra do Jacamim, recolhida pelo botânico Barbosa Rodrigues, numa versão que funciona como um minitratado de ornitologia contendo inventário dos pássaros da Amazônia. Escutaram fábulas do jabuti, da onça, do jacaré e do índio que matou uma veada recém parida, ainda amamentando, e por isso foi punido por Anhangá que transformou o animal morto na mãe do caçador. A história funciona como código florestal de índios e ribeirinhos.
Algumas narrativas registradas no séc. XIX por Couto de Magalhães, Stradelli, Charles Hartt, Brandão Amorim, além de Barbosa Rodrigues, foram retiradas de seus livros como quem tira do hospital um doente já curado. Outras, mais recentes, conheci nos cursos de formação de professores indígenas que ministrei em diferentes regiões do Brasil. Narrativas míticas como a criação do universo pela avó do mundo, que foi engravidada pela música para assim parir os seres humanos, estimularam os Mura a contarem as suas versões.
Ouvi histórias que não conhecia. Um menino Mura, Kaynã de Oliveira, 13 anos, neto de uma Tukano do rio Negro com um Mura do rio Madeira, “lavou a égua” como se diz no Amazonas. Performático, com domínio de palco, gestos precisos, mandou ver. Foi lá na frente e descreviveu suas histórias, seguido por Camila Oliveira, 9 anos, e Emanuel Batista, 8 aninhos. Na escola indígena eles costumam fazer isso na “Hora de Ler” e na “Produção de contos”, quando reescrevem o que narraram ou leram. Já produziram mais de 50 contos que estão sendo digitados para um livro.
As crianças Mura retornaram à sua aldeia de carona no barco da expedição depois de assistirem uma aula-espetáculo no meio de chuva diluviana. Elas próprias armaram suas redes coloridas e foram despertadas cedinho pelo palhaço Cloro, que usou cobras e aranhas de borracha para “assustá-las”. De brincadeirinha, fingiam medo. Segundo a professora Ivanir Lima, estão “sedentas de literatura”, por isso a contação de história ocupa lugar relevante no currículo escolar.
- Na nossa escola Mura, a gente aprende o nosso e aprende o deles, mas nas escolas não indígenas, eles só aprendem o deles e ignoram o nosso diz o professor Maikon. Isto é, acabam ficando sem conhecer o outro.
 A Escola Raimundo Soares, nome de um falecido cacique Mura, é um prédio em forma de maloca de tijolo, cimento e telha, no meio da floresta, onde 10 professores indígenas dão aulas para 62 alunos do ensino fundamental, transportados diariamente de suas casas numa “canoa escolar”. No turno da noite já funciona o ensino médio. Tem uma biblioteca com mais de 300 títulos e uma horta com macaxeira, pimenta murupi, batata doce, abóbora e plantas medicinais, incluindo boldo, mastruz e hortelã. Parte do conteúdo curricular circula em histórias através da pedagogia da oralidade.
Depois morrer
A língua falada por todos na aldeia do Jauari é o português, usado portanto como língua de instrução na escola. Mas essa língua, que foi historicamente imposta aos índios, conserva marcas das línguas Mura e Nheengatu, o que a diferencia de outras variedades do português do rio Madeira. Uma decisão de política de língua local introduziu o ensino do Nheengatu como segunda língua. Contato recente foi feito com os parentes do rio Marmelo, todos eles falantes de Mura Pirahã, como forma de expor os alunos à outra língua que faz parte da história do grupo.
Na aldeia, onde vivem 26 famílias com mais de 200 pessoas, foi plantada, como nas demais escolas, uma muda de pau-brasil, símbolo de quem resiste. Com suas próprias mãos, as crianças Mura preencheram com terra e adubo o buraco cavado.
A Escola Raimundo Soares, nome de um falecido cacique Mura, é um prédio em forma de maloca de tijolo, cimento e telha, no meio da floresta, onde 10 professores indígenas dão aulas para 62 alunos do ensino fundamental, transportados diariamente de suas casas numa “canoa escolar”. No turno da noite já funciona o ensino médio. Tem uma biblioteca com mais de 300 títulos e uma horta com macaxeira, pimenta murupi, batata doce, abóbora e plantas medicinais, incluindo boldo, mastruz e hortelã. Parte do conteúdo curricular circula em histórias através da pedagogia da oralidade.
Depois morrer
A língua falada por todos na aldeia do Jauari é o português, usado portanto como língua de instrução na escola. Mas essa língua, que foi historicamente imposta aos índios, conserva marcas das línguas Mura e Nheengatu, o que a diferencia de outras variedades do português do rio Madeira. Uma decisão de política de língua local introduziu o ensino do Nheengatu como segunda língua. Contato recente foi feito com os parentes do rio Marmelo, todos eles falantes de Mura Pirahã, como forma de expor os alunos à outra língua que faz parte da história do grupo.
Na aldeia, onde vivem 26 famílias com mais de 200 pessoas, foi plantada, como nas demais escolas, uma muda de pau-brasil, símbolo de quem resiste. Com suas próprias mãos, as crianças Mura preencheram com terra e adubo o buraco cavado.
 As vozes da Amazônia subiram, de bubuia, o rio Madeira, num cenário espetacular. Lá ninguém viu a relíquia do sangue de San Gennaro, nem as ruínas de Pompeia, mas presenciou outras maravilhas: o balé permanente de botos brincalhões que seguiam o barco, uma tempestade de areia que varreu a praia, um soberbo pôr-do-sol, uma lua esplendorosa crescendo a cada noite, pássaros e borboletas coloridas que se exibiam em voos rasantes na floresta à margem do rio, onde de quando em quando emergia a casa de um ribeirinho mergulhada na solidão. Numa delas próximo a Humaitá, uma caboca que varria o terreiro nos deu adeus. Tudo foi filmado pela equipe de cinegrafistas.
O tempo que escoava, lentamente, em outro ritmo, estimulou conversas intermináveis dentro do barco, a descoberta de gente, as trocas de afeto, os sonhos com outro Brasil.
- Não morra antes de ver Nápoles – aconselha a sabedoria popular italiana. Esse foi o sentimento compartilhado pelos participantes da expedição literária, que descobriram não valer a pena morrer sem antes navegar pelo rio Madeira, contando e ouvindo histórias amazônicas. Uma esperança nesse Brasil bolsonarizado pela barbárie. Morrer antes disso, sem a chama acesa da resistência, seria uma ironia, um desperdício. A Amazônia das palavras ficou no coração e na lembrança de cada um de nós. Vedi Napoli e poi muori.
P.S. – Coordenado por Fernanda Kopanakis e José Jurandir da Costa, ambos da Associação Mapinguari, o “Amazônia das Palavras”, realizado pelo Ministério da Cultura com apoio do BNDES, homenageou o poeta Thiago de Mello. Contou no barco Cte. Souza com uma equipe de mais de 30 pessoas: cinegrafistas, fotógrafos, escritores, jornalistas, professores, pessoal de apoio logístico, com dona Francisca e Henrique comandando a cozinha, além de tripulantes, maquinistas e piloto.
As oficinas foram ministradas por José Roberto Torero, escrivão da frota e porta-voz na Amazônia de Santo Ernulfo (Produção de Contos), Bira Lourenço (Sons do Cotidiano), Leo Ribeiro (Palavra Animada), Bete Bullara (Poesia: Narrativa e Escuta) e este locutor que vos fala (Contação de Histórias Indígenas). Diego Gamarra, o palhaço que engole letras, apresentou espetáculo circense e Daniel Munduruku esteve presente nas duas primeiras cidades com a aula-espetáculo.
As vozes da Amazônia subiram, de bubuia, o rio Madeira, num cenário espetacular. Lá ninguém viu a relíquia do sangue de San Gennaro, nem as ruínas de Pompeia, mas presenciou outras maravilhas: o balé permanente de botos brincalhões que seguiam o barco, uma tempestade de areia que varreu a praia, um soberbo pôr-do-sol, uma lua esplendorosa crescendo a cada noite, pássaros e borboletas coloridas que se exibiam em voos rasantes na floresta à margem do rio, onde de quando em quando emergia a casa de um ribeirinho mergulhada na solidão. Numa delas próximo a Humaitá, uma caboca que varria o terreiro nos deu adeus. Tudo foi filmado pela equipe de cinegrafistas.
O tempo que escoava, lentamente, em outro ritmo, estimulou conversas intermináveis dentro do barco, a descoberta de gente, as trocas de afeto, os sonhos com outro Brasil.
- Não morra antes de ver Nápoles – aconselha a sabedoria popular italiana. Esse foi o sentimento compartilhado pelos participantes da expedição literária, que descobriram não valer a pena morrer sem antes navegar pelo rio Madeira, contando e ouvindo histórias amazônicas. Uma esperança nesse Brasil bolsonarizado pela barbárie. Morrer antes disso, sem a chama acesa da resistência, seria uma ironia, um desperdício. A Amazônia das palavras ficou no coração e na lembrança de cada um de nós. Vedi Napoli e poi muori.
P.S. – Coordenado por Fernanda Kopanakis e José Jurandir da Costa, ambos da Associação Mapinguari, o “Amazônia das Palavras”, realizado pelo Ministério da Cultura com apoio do BNDES, homenageou o poeta Thiago de Mello. Contou no barco Cte. Souza com uma equipe de mais de 30 pessoas: cinegrafistas, fotógrafos, escritores, jornalistas, professores, pessoal de apoio logístico, com dona Francisca e Henrique comandando a cozinha, além de tripulantes, maquinistas e piloto.
As oficinas foram ministradas por José Roberto Torero, escrivão da frota e porta-voz na Amazônia de Santo Ernulfo (Produção de Contos), Bira Lourenço (Sons do Cotidiano), Leo Ribeiro (Palavra Animada), Bete Bullara (Poesia: Narrativa e Escuta) e este locutor que vos fala (Contação de Histórias Indígenas). Diego Gamarra, o palhaço que engole letras, apresentou espetáculo circense e Daniel Munduruku esteve presente nas duas primeiras cidades com a aula-espetáculo.
 Fotos: Xeno Veloso, Fábio Costa, Avener Prado, Bruno Pereira, José Torero, Wander Braga
Fotos: Xeno Veloso, Fábio Costa, Avener Prado, Bruno Pereira, José Torero, Wander Braga
 No caminho, o barco da expedição cruzou com enormes balsas transportando soja que começa a invadir a floresta, encontrou marcas do garimpo que envenena o rio e observou a existência de um pequeno grupo que enriquece às custas da população cada vez mais empobrecida, sem assistência médica, com educação precária. Apesar disso, nas escolas da periferia brotaram surpreendentes manifestações de criatividade de alunos de 10 a 17 anos. Foi possível constatar em muitos “o brilho no olhar” que a professora Ivanir Lima, de Manicoré, observou nos indígenas Mura ali presentes.
Canoa escolar
No caminho, o barco da expedição cruzou com enormes balsas transportando soja que começa a invadir a floresta, encontrou marcas do garimpo que envenena o rio e observou a existência de um pequeno grupo que enriquece às custas da população cada vez mais empobrecida, sem assistência médica, com educação precária. Apesar disso, nas escolas da periferia brotaram surpreendentes manifestações de criatividade de alunos de 10 a 17 anos. Foi possível constatar em muitos “o brilho no olhar” que a professora Ivanir Lima, de Manicoré, observou nos indígenas Mura ali presentes.
Canoa escolar
 Dez crianças Mura viajaram nove horas até Manicoré com seus professores Maikon Douglas, 26 anos, e Jonas Gomes, 29 anos, só para participarem da oficina de contação de histórias indígenas. Ouviram atentamente a saga da Sogra do Jacamim, recolhida pelo botânico Barbosa Rodrigues, numa versão que funciona como um minitratado de ornitologia contendo inventário dos pássaros da Amazônia. Escutaram fábulas do jabuti, da onça, do jacaré e do índio que matou uma veada recém parida, ainda amamentando, e por isso foi punido por Anhangá que transformou o animal morto na mãe do caçador. A história funciona como código florestal de índios e ribeirinhos.
Algumas narrativas registradas no séc. XIX por Couto de Magalhães, Stradelli, Charles Hartt, Brandão Amorim, além de Barbosa Rodrigues, foram retiradas de seus livros como quem tira do hospital um doente já curado. Outras, mais recentes, conheci nos cursos de formação de professores indígenas que ministrei em diferentes regiões do Brasil. Narrativas míticas como a criação do universo pela avó do mundo, que foi engravidada pela música para assim parir os seres humanos, estimularam os Mura a contarem as suas versões.
Ouvi histórias que não conhecia. Um menino Mura, Kaynã de Oliveira, 13 anos, neto de uma Tukano do rio Negro com um Mura do rio Madeira, “lavou a égua” como se diz no Amazonas. Performático, com domínio de palco, gestos precisos, mandou ver. Foi lá na frente e descreviveu suas histórias, seguido por Camila Oliveira, 9 anos, e Emanuel Batista, 8 aninhos. Na escola indígena eles costumam fazer isso na “Hora de Ler” e na “Produção de contos”, quando reescrevem o que narraram ou leram. Já produziram mais de 50 contos que estão sendo digitados para um livro.
As crianças Mura retornaram à sua aldeia de carona no barco da expedição depois de assistirem uma aula-espetáculo no meio de chuva diluviana. Elas próprias armaram suas redes coloridas e foram despertadas cedinho pelo palhaço Cloro, que usou cobras e aranhas de borracha para “assustá-las”. De brincadeirinha, fingiam medo. Segundo a professora Ivanir Lima, estão “sedentas de literatura”, por isso a contação de história ocupa lugar relevante no currículo escolar.
- Na nossa escola Mura, a gente aprende o nosso e aprende o deles, mas nas escolas não indígenas, eles só aprendem o deles e ignoram o nosso diz o professor Maikon. Isto é, acabam ficando sem conhecer o outro.
Dez crianças Mura viajaram nove horas até Manicoré com seus professores Maikon Douglas, 26 anos, e Jonas Gomes, 29 anos, só para participarem da oficina de contação de histórias indígenas. Ouviram atentamente a saga da Sogra do Jacamim, recolhida pelo botânico Barbosa Rodrigues, numa versão que funciona como um minitratado de ornitologia contendo inventário dos pássaros da Amazônia. Escutaram fábulas do jabuti, da onça, do jacaré e do índio que matou uma veada recém parida, ainda amamentando, e por isso foi punido por Anhangá que transformou o animal morto na mãe do caçador. A história funciona como código florestal de índios e ribeirinhos.
Algumas narrativas registradas no séc. XIX por Couto de Magalhães, Stradelli, Charles Hartt, Brandão Amorim, além de Barbosa Rodrigues, foram retiradas de seus livros como quem tira do hospital um doente já curado. Outras, mais recentes, conheci nos cursos de formação de professores indígenas que ministrei em diferentes regiões do Brasil. Narrativas míticas como a criação do universo pela avó do mundo, que foi engravidada pela música para assim parir os seres humanos, estimularam os Mura a contarem as suas versões.
Ouvi histórias que não conhecia. Um menino Mura, Kaynã de Oliveira, 13 anos, neto de uma Tukano do rio Negro com um Mura do rio Madeira, “lavou a égua” como se diz no Amazonas. Performático, com domínio de palco, gestos precisos, mandou ver. Foi lá na frente e descreviveu suas histórias, seguido por Camila Oliveira, 9 anos, e Emanuel Batista, 8 aninhos. Na escola indígena eles costumam fazer isso na “Hora de Ler” e na “Produção de contos”, quando reescrevem o que narraram ou leram. Já produziram mais de 50 contos que estão sendo digitados para um livro.
As crianças Mura retornaram à sua aldeia de carona no barco da expedição depois de assistirem uma aula-espetáculo no meio de chuva diluviana. Elas próprias armaram suas redes coloridas e foram despertadas cedinho pelo palhaço Cloro, que usou cobras e aranhas de borracha para “assustá-las”. De brincadeirinha, fingiam medo. Segundo a professora Ivanir Lima, estão “sedentas de literatura”, por isso a contação de história ocupa lugar relevante no currículo escolar.
- Na nossa escola Mura, a gente aprende o nosso e aprende o deles, mas nas escolas não indígenas, eles só aprendem o deles e ignoram o nosso diz o professor Maikon. Isto é, acabam ficando sem conhecer o outro.
 A Escola Raimundo Soares, nome de um falecido cacique Mura, é um prédio em forma de maloca de tijolo, cimento e telha, no meio da floresta, onde 10 professores indígenas dão aulas para 62 alunos do ensino fundamental, transportados diariamente de suas casas numa “canoa escolar”. No turno da noite já funciona o ensino médio. Tem uma biblioteca com mais de 300 títulos e uma horta com macaxeira, pimenta murupi, batata doce, abóbora e plantas medicinais, incluindo boldo, mastruz e hortelã. Parte do conteúdo curricular circula em histórias através da pedagogia da oralidade.
Depois morrer
A língua falada por todos na aldeia do Jauari é o português, usado portanto como língua de instrução na escola. Mas essa língua, que foi historicamente imposta aos índios, conserva marcas das línguas Mura e Nheengatu, o que a diferencia de outras variedades do português do rio Madeira. Uma decisão de política de língua local introduziu o ensino do Nheengatu como segunda língua. Contato recente foi feito com os parentes do rio Marmelo, todos eles falantes de Mura Pirahã, como forma de expor os alunos à outra língua que faz parte da história do grupo.
Na aldeia, onde vivem 26 famílias com mais de 200 pessoas, foi plantada, como nas demais escolas, uma muda de pau-brasil, símbolo de quem resiste. Com suas próprias mãos, as crianças Mura preencheram com terra e adubo o buraco cavado.
A Escola Raimundo Soares, nome de um falecido cacique Mura, é um prédio em forma de maloca de tijolo, cimento e telha, no meio da floresta, onde 10 professores indígenas dão aulas para 62 alunos do ensino fundamental, transportados diariamente de suas casas numa “canoa escolar”. No turno da noite já funciona o ensino médio. Tem uma biblioteca com mais de 300 títulos e uma horta com macaxeira, pimenta murupi, batata doce, abóbora e plantas medicinais, incluindo boldo, mastruz e hortelã. Parte do conteúdo curricular circula em histórias através da pedagogia da oralidade.
Depois morrer
A língua falada por todos na aldeia do Jauari é o português, usado portanto como língua de instrução na escola. Mas essa língua, que foi historicamente imposta aos índios, conserva marcas das línguas Mura e Nheengatu, o que a diferencia de outras variedades do português do rio Madeira. Uma decisão de política de língua local introduziu o ensino do Nheengatu como segunda língua. Contato recente foi feito com os parentes do rio Marmelo, todos eles falantes de Mura Pirahã, como forma de expor os alunos à outra língua que faz parte da história do grupo.
Na aldeia, onde vivem 26 famílias com mais de 200 pessoas, foi plantada, como nas demais escolas, uma muda de pau-brasil, símbolo de quem resiste. Com suas próprias mãos, as crianças Mura preencheram com terra e adubo o buraco cavado.
 As vozes da Amazônia subiram, de bubuia, o rio Madeira, num cenário espetacular. Lá ninguém viu a relíquia do sangue de San Gennaro, nem as ruínas de Pompeia, mas presenciou outras maravilhas: o balé permanente de botos brincalhões que seguiam o barco, uma tempestade de areia que varreu a praia, um soberbo pôr-do-sol, uma lua esplendorosa crescendo a cada noite, pássaros e borboletas coloridas que se exibiam em voos rasantes na floresta à margem do rio, onde de quando em quando emergia a casa de um ribeirinho mergulhada na solidão. Numa delas próximo a Humaitá, uma caboca que varria o terreiro nos deu adeus. Tudo foi filmado pela equipe de cinegrafistas.
O tempo que escoava, lentamente, em outro ritmo, estimulou conversas intermináveis dentro do barco, a descoberta de gente, as trocas de afeto, os sonhos com outro Brasil.
- Não morra antes de ver Nápoles – aconselha a sabedoria popular italiana. Esse foi o sentimento compartilhado pelos participantes da expedição literária, que descobriram não valer a pena morrer sem antes navegar pelo rio Madeira, contando e ouvindo histórias amazônicas. Uma esperança nesse Brasil bolsonarizado pela barbárie. Morrer antes disso, sem a chama acesa da resistência, seria uma ironia, um desperdício. A Amazônia das palavras ficou no coração e na lembrança de cada um de nós. Vedi Napoli e poi muori.
P.S. – Coordenado por Fernanda Kopanakis e José Jurandir da Costa, ambos da Associação Mapinguari, o “Amazônia das Palavras”, realizado pelo Ministério da Cultura com apoio do BNDES, homenageou o poeta Thiago de Mello. Contou no barco Cte. Souza com uma equipe de mais de 30 pessoas: cinegrafistas, fotógrafos, escritores, jornalistas, professores, pessoal de apoio logístico, com dona Francisca e Henrique comandando a cozinha, além de tripulantes, maquinistas e piloto.
As oficinas foram ministradas por José Roberto Torero, escrivão da frota e porta-voz na Amazônia de Santo Ernulfo (Produção de Contos), Bira Lourenço (Sons do Cotidiano), Leo Ribeiro (Palavra Animada), Bete Bullara (Poesia: Narrativa e Escuta) e este locutor que vos fala (Contação de Histórias Indígenas). Diego Gamarra, o palhaço que engole letras, apresentou espetáculo circense e Daniel Munduruku esteve presente nas duas primeiras cidades com a aula-espetáculo.
As vozes da Amazônia subiram, de bubuia, o rio Madeira, num cenário espetacular. Lá ninguém viu a relíquia do sangue de San Gennaro, nem as ruínas de Pompeia, mas presenciou outras maravilhas: o balé permanente de botos brincalhões que seguiam o barco, uma tempestade de areia que varreu a praia, um soberbo pôr-do-sol, uma lua esplendorosa crescendo a cada noite, pássaros e borboletas coloridas que se exibiam em voos rasantes na floresta à margem do rio, onde de quando em quando emergia a casa de um ribeirinho mergulhada na solidão. Numa delas próximo a Humaitá, uma caboca que varria o terreiro nos deu adeus. Tudo foi filmado pela equipe de cinegrafistas.
O tempo que escoava, lentamente, em outro ritmo, estimulou conversas intermináveis dentro do barco, a descoberta de gente, as trocas de afeto, os sonhos com outro Brasil.
- Não morra antes de ver Nápoles – aconselha a sabedoria popular italiana. Esse foi o sentimento compartilhado pelos participantes da expedição literária, que descobriram não valer a pena morrer sem antes navegar pelo rio Madeira, contando e ouvindo histórias amazônicas. Uma esperança nesse Brasil bolsonarizado pela barbárie. Morrer antes disso, sem a chama acesa da resistência, seria uma ironia, um desperdício. A Amazônia das palavras ficou no coração e na lembrança de cada um de nós. Vedi Napoli e poi muori.
P.S. – Coordenado por Fernanda Kopanakis e José Jurandir da Costa, ambos da Associação Mapinguari, o “Amazônia das Palavras”, realizado pelo Ministério da Cultura com apoio do BNDES, homenageou o poeta Thiago de Mello. Contou no barco Cte. Souza com uma equipe de mais de 30 pessoas: cinegrafistas, fotógrafos, escritores, jornalistas, professores, pessoal de apoio logístico, com dona Francisca e Henrique comandando a cozinha, além de tripulantes, maquinistas e piloto.
As oficinas foram ministradas por José Roberto Torero, escrivão da frota e porta-voz na Amazônia de Santo Ernulfo (Produção de Contos), Bira Lourenço (Sons do Cotidiano), Leo Ribeiro (Palavra Animada), Bete Bullara (Poesia: Narrativa e Escuta) e este locutor que vos fala (Contação de Histórias Indígenas). Diego Gamarra, o palhaço que engole letras, apresentou espetáculo circense e Daniel Munduruku esteve presente nas duas primeiras cidades com a aula-espetáculo.
 Fotos: Xeno Veloso, Fábio Costa, Avener Prado, Bruno Pereira, José Torero, Wander Braga
Fotos: Xeno Veloso, Fábio Costa, Avener Prado, Bruno Pereira, José Torero, Wander Braga
Celso Lungaretti, jornalista e escritor, foi resistente à ditadura militar ainda secundarista e participou da Vanguarda Popular Revolucionária. Preso e processado, escreveu o livro Náufrago da Utopia (Geração Editorial). Tem um ativo blog com esse mesmo título.
Direto da Redação é um fórum de debates editado pelo jornalista Rui Martins.